Pulsão em Freud e Lacan: do corpo à linguagem
- Instituto ESPE

- 27 de out.
- 6 min de leitura
Texto escrito por Renata Wirthmann, Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília com pós-doutorado em Psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
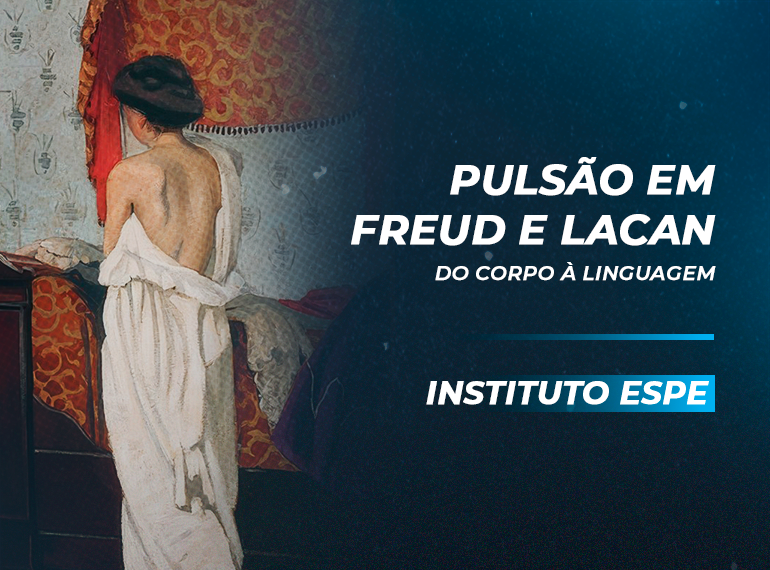
O conceito de pulsão (Trieb) ocupa um lugar central na teoria psicanalítica. Segundo Freud, é um dos mais importantes e o mais obscuro de todos os conceitos psicanalíticos, fundamentalmente por ser um conceito-fronteiriço entre o corpo (somático) e o anímico (psíquico). Não é de estranhar, portanto, que, ao longo de sua obra, Freud tenha reformulado a teoria das pulsões em três grandes fases: de 1905 a 1914, de 1914 a 1920, e de 1920 a 1939.
A primeira teoria freudiana das pulsões é marcada por uma dualidade entre pulsão sexual e pulsão do Eu (autopreservação). Em 1905, nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud delineia a existência de pulsões sexuais parciais desde a infância. Nos anos seguintes, Freud diferenciou dois grupos de pulsões: de um lado, as pulsões sexuais, ligadas ao investimento libidinal; de outro, as pulsões do eu ou de autopreservação.
Contudo, desde o início, Freud antecipou que essa separação seria apenas provisória, uma construção auxiliar, que seria revista conforme novos dados surgissem. De fato, a publicação do ensaio Sobre o narcisismo, em 1914, rompeu tal dicotomia. Ao descrever, a partir do conceito de narcisismo, que o eu pode investir libido em si mesmo, Freud dissolveu tal dicotomia por constatar que a autopreservação também possui um fundo libidinal. Essa mudança nos leva à segunda teoria das pulsões.
Consolidada a partir dos textos metapsicológicos de 1914 à 1920, na segunda teoria pulsional encontramos o desaparecimento do dualismo, pois as pulsões do eu passam a ser também consideradas pulsões sexuais. Com a publicação do ensaio As pulsões e seus destinos, de 1915, Freud oferece uma definição mais precisa da pulsão, assim como suas principais dimensões: pressão, meta, objeto e fonte.
A pressão (Drang) é o motor da pulsão, sua força constante que não cessa de demandar satisfação. A meta (Ziel) é sempre a satisfação, sendo que a pulsão pode se satisfazer por várias vias parciais ou intermediárias, e pode, até mesmo, permanecer inibida em sua meta provisoriamente. O objeto (Objekt) é o meio pelo qual a pulsão atinge sua meta. Pode ser uma pessoa, uma parte do corpo, ou até um objeto. O objeto da pulsão, como observa Freud, é “o que há de mais variável na pulsão, não estando originariamente a ela vinculado”, de modo que qualquer coisa capaz de proporcionar satisfação pode tornar-se objeto da pulsão. A fonte (Quelle) é a origem corporal da pulsão. Cada pulsão se origina da excitação de algum órgão ou zona do corpo (por exemplo, a zona bucal para a pulsão oral, a zona anal para a pulsão anal etc.).
Analisando a relação entre as quatro dimensões da pulsão, percebemos que a fonte é a dimensão somática da pulsão, enquanto a pressão, a meta e o objeto constituem os aspectos dinâmicos no psiquismo. A partir da segunda teoria pulsional, Freud enfatiza que a pulsão como algo que se origina no corpo, mas que o ultrapassa.
A terceira e última grande reformulação de Freud acerca das pulsões ocorre a partir da publicação de Além do Princípio do Prazer, em 1920, no qual nos é apresentada a pulsão de morte. A pulsão de morte explicita a existência de uma tendência radical em todo ser vivo de retornar ao seu estado inorgânico. Nas palavras de Freud, “o objetivo de toda vida é a morte” através de uma pulsão silenciosa denominada como pulsão de morte.
A introdução da pulsão de morte fez Freud retomar o dualismo. Nesta nova dualidade, de um lado, temos as pulsões de vida (Eros), que incluem a sexualidade e as forças de autopreservação integradas. Do outro, a pulsão de morte, cuja meta não é conservar a vida, mas dissolvê-la de volta à matéria inanimada. Clinicamente observamos que as pulsões de morte se manifestam indiretamente: uma parte desviada para o mundo externo na forma de pulsão agressiva ou destrutiva (voltada contra os objetos), enquanto outra parte permanece atuando internamente (auto-sabotagem, repetição, masoquismo).
Uma diferença marcante entre as pulsões de vida e de morte se refere à forma como cada uma delas se manifesta. Enquanto a pulsão de vida é barulhenta, a pulsão de morte opera de modo silencioso e anônimo. O prazer que a pulsão de morte busca não é o prazer tensionado da excitação sexual, mas o alívio total da tensão (Nirvana). Essa dualidade nos explicita que a vida, para a psicanálise, é um jogo de forças entre Eros e Thanatos, no qual Eros se esforça para se ligar e construir unidades cada vez maiores (células em organismos, indivíduos em comunidades), enquanto Thanatos busca desligar, reduzir, devolver a vida à sua condição inorgânica. O destino de cada um de nós se envereda nesse conflito interminável entre as pulsões de vida e de morte, de tal modo que o mundo é marcado, simultaneamente, pela constante invenção de novas formas de viver e de morrer, a exemplo da ciência atômica, que produz energia limpa e tratamento para o câncer, assim como a mais letal bomba atômica.
Nas décadas de 1920 e 1930, Freud aprofunda essa última teoria pulsional para compreender importantes fenômenos humanos como o masoquismo, a repetição e a agressividade humana que alimenta guerras, resultando em um de seus mais importantes ensaios que marcou o século XX: O mal-estar na civilização, de 1930.
Importante ressaltar que as três teorias pulsionais de Freud não são excludentes; pelo contrário, elas se integram: a terceira teoria combina a visão dualista renovada (Eros versus Thanatos) com as contribuições da segunda (a metapsicologia da pulsão como representante psíquico, com pressão, meta, objeto, fonte) e com os achados da primeira (a sexualidade infantil polimorfa, a importância das experiências infantis no destino das pulsões).
Mas se em Freud a pulsão era formulada num limiar entre corpo e psiquismo, Jacques Lacan – o principal herdeiro da tradição freudiana no século XX – vai radicalizar o deslocamento do corpo para a linguagem. Lacan reinterpreta a pulsão dentro da sua teoria da linguagem, entendendo-a não a partir de um impulso fisiológico, e sim originando de um circuito estrutural que envolve o corpo, a linguagem e o gozo. Em suma, ele desbiologizou a pulsão, inscrevendo-a na ordem do significante e do desejo.
O ponto de partida desta construção lacaniana é sua famosa frase: “Toda pulsão é pulsão de morte”. Com isso, Lacan não quer negar a dimensão erótica da pulsão, mas enfatizar que a força pulsional tem um caráter repetitivo que não visa o equilíbrio homeostático, porém que insiste até provocar o máximo de desprazer e dano. Ao dizer que toda pulsão é de morte, Lacan está salientando que qualquer circuito pulsional, mesmo o sexual, carrega em si esse movimento autônomo, compulsivo, que tende a contornar a satisfação e repetir-se.
No seminário 11, Lacan reformula as quatro dimensões da pulsão de Freud nos termos de sua teoria. Em vez de fonte biológica, objeto real e assim por diante, ele os descreve como elementos de uma montagem estrutural. A pulsão, diz Lacan, coloca-se ao nível de um furo na ordem do desejo. Essa lógica nos leva a dois pontos cruciais: primeiro, a causa da pulsão não é um estímulo corporal em si, mas um objeto perdido, um vazio que faz falta e põe a pulsão em movimento. Segundo, a pulsão opera ao nível de um furo no desejo, ou seja, que ela contorna algo que falta, gira em torno desse vazio central.
Vivemos numa época marcada pelo predomínio do discurso médico e farmacológico, que tende a entender os transtornos mentais principalmente como disfunções neuroquímicas ou do neurodesenvolvimento a serem tratadas com medicamentos. Em especial, observa-se uma importante e preocupante medicalização da infância em que agitação, desatenção, agressividade, tristeza têm sido rapidamente diagnosticados como algum transtorno e, consequentemente, medicados.
A psicanálise, apoiada na teoria das pulsões, propõe que mesmo os sintomas aparentemente mais orgânicos carregam um sentido inconsciente e envolvem uma satisfação pulsional. Por exemplo, uma criança mais ativa pode, sob a ótica médica, ser considerada como portadora de um desequilíbrio neurobiológico a ser corrigido com um estimulante. Mas, para a psicanálise, é crucial perguntar: o que a criança expressa nesse movimento incessante? Que satisfação ela obtém (ainda que desconfortável) ao desafiar limites ou ao se colocar numa posição problemática?
A crítica à medicalização não significa negar os avanços da psiquiatria ou da neurociência, e sim reafirmar a especificidade do campo psíquico. A teoria pulsional nos lembra de algo fundamental: no humano, o biológico é sempre insuficiente para dar conta do sofrimento. Por trás de um quadro de depressão, por exemplo, pode haver muito mais que um desequilíbrio de neurotransmissores – pode haver lutos não elaborados, ódio voltado contra si mesmo (pulsão de morte), falta de inscrição simbólica de alguma perda etc. Um tratamento apenas medicamentoso pode aliviar os efeitos, mas dificilmente permitirá ao sujeito ressignificar sua experiência ou se apropriar dela de modo diferente.
Em crianças, isso é ainda mais delicado: rotular uma criança em desenvolvimento com diagnósticos rígidos pode cristalizar uma identidade patológica e obscurecer a compreensão de seu mal-estar como parte de um contexto familiar, escolar e subjetivo em movimento. A clínica psicanalítica, orientada pela escuta das pulsões e do desejo, procura não apressar a classificação, mas abrir um espaço onde mesmo o não-sentido aparente do sintoma possa falar.
A psicanálise oferece um contraponto ético: em vez de calar o sintoma rapidamente, escutemos o que ele tem a dizer. Assim, na clínica, o psicanalista procura fazer circular a palavra em torno daquilo que insiste no ato ou no corpo. Muitas vezes, o simples fato de o sujeito poder falar e nomear seus medos, suas fantasias, suas raivas e ressentimentos, já desloca o circuito pulsional repetitivo, abrindo brechas para a elaboração.
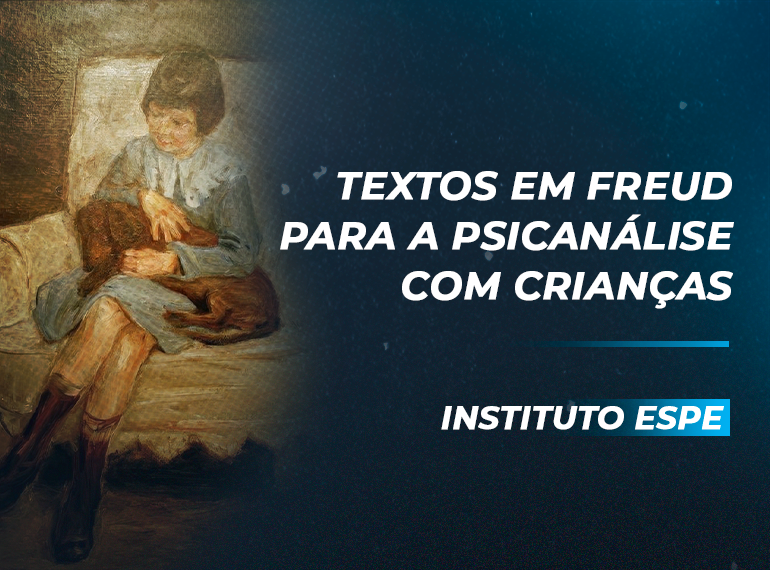


Comentários